Tradução: Adrián Ramos

(Versión en español aquí)
Manuel Heitor é, desde 2015, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal. Tem uma longa carreira académica como professor do Instituto Técnico Superior de Lisboa. É doutor em Engenharia Mecânica pelo Imperial College de Londres. Foi professor visitante em Harvard e Research Fellow da Universidade do Texas. Foi um dos co-fundadores da «Global Network for the Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems» (Globelics). Entre 2005 e 2011, foi Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
José Saramago, no seu livro La balsa de piedra, imagina um cenário em que a Península Ibérica rompe a ligação com a Europa e decide navegar sozinha pelo Atlântico em busca das suas raízes americanas e africanas numa espécie de “iberismo” navegável. Também se referiu a essa ideia ocasionalmente. Chegaríamos a bom porto ou perder-nos-íamos no Atlântico?
A ideia do Saramago é uma crítica social e quando escrevi esse artigo era, sobretudo, para a contrariar. Considero que a única solução de Portugal, de Espanha e da Ibéria é ter mais Europa e ter uma Europa com mais presença na Ibéria, mas, ao mesmo tempo, valorizar a sua posição relativa no Atlântico. Não é, obviamente, sair da Europa. É, exatamente, o contrário. Este é um contexto hoje muito interessante, penso eu, para Espanha, para Portugal e para a colaboração de ambos os países.
Trabalhando em conjunto, Portugal e Espanha, certamente podemos contribuir mais para a Europa e isso pode fazer-se, quanto a mim, de duas formas principais: pela relação atlântica, mas também pelo espaço e pelas novas fronteiras do conhecimento. E se há quinhentos anos Portugal e Espanha se envolveram em grandes aventuras no desconhecido, penso que hoje já temos mais conhecimento para fazê-lo melhor e de uma forma mais sustentável e duradoura. E, obviamente, o reforço do posicionamento da Ibéria no Atlântico passa por ter-se uma estratégia conjunta muito clara, certamente com África e com a América Latina, mas também com os Estados Unidos e com a Europa de uma forma geral.
Como Air Center (Atlantic International Research Center)…
Exato, foi assim que criámos, entre outras estratégias, o Air Center, uma instituição em rede colaborativa internacional, para poder valorizar Portugal e Espanha no contexto atlântico, juntamente com outros países interessados (incluindo o Reino Unido, a Nigéria, a África do Sul e o Brasil, entre outros), mas olhando para novos desafios, sobretudo aquilo que pode ser hoje os sistemas de baixo custo integrando conhecimento, como a inteligência artificial com a informação por satélite. De facto, ao fim de mais de vinte anos de Portugal a participar na ESA (European Space Agency) e de a Espanha já participar há quase vinte e cinco anos, eu considero que hoje temos um desenvolvimento tecnológico e científico na área espacial que nos permite olhar muito mais para o Atlântico com informação de baixo custo por satélite.
Por isso, posicionar o Air Center na observação da terra, mas criando economia e empregos com base nisso, é crítico para Portugal. Porque a nossa questão é não apenas olhar para Portugal e Espanha, mas perceber como é que nós podemos criar mais e melhores empregos, atraindo pessoas de todo o mundo para trabalharem em Portugal e Espanha.
Os países europeus estão a convergir?
Portugal e Espanha têm pressões demográficas muito grandes e se olharmos para, por um lado, as pressões demográficas e o envelhecimento da população, juntamente com as desigualdades económicas que ainda existem e quando, é que consideramos que ainda estamos desiguais face ao centro da Europa. Temos potencial para crescer. Ou com as questões das alterações climáticas que nos afetam a todos.
Mas, também, com um processo de transformação digital que está em curso acelerado. Hoje sabemos que a transformação digital pode e deve criar emprego, mas também polariza o emprego. Portanto, temos que estar no centro deste processo de criação de emprego, usando as oportunidades da transformação digital face às alterações climáticas e face a um processo de pressão demográfica. Isso só se faz com mais conhecimento.
Por isso, a ideia que eu apresento para Portugal e Espanha tem interesse. Se trabalharem com mais coesão, mas também com mais competitividade, podem convergir para a Europa se tiverem mais conhecimento. Portanto os quatro C: coesão e competitividade para a convergência europeia, mas só com mais conhecimento. Porque um dos problemas, quanto a mim, dos últimos vinte anos da Europa, que é a nossa história, é que os fundos da coesão foram, sobretudo, para os mais pobres e os fundos da competitividade para os mais ricos e quando olhamos para os períodos de crise, entre 2010 e 2015, a Europa dividiu-se mais, porque também os fundos de coesão e os fundos de competitividade foram divididos. E temos juntos de garantir que estamos mais coesos, mas mais competitivos. Isto, politicamente e no contexto europeu, é particularmente complexo e difícil. Porque os países do centro e norte da Europa querem, cada vez, ser mais ricos e apenas ajudar. E nós não queremos ajudas. Nós queremos é ser mais coesos e mais competitivos. E, portanto, precisamos de fundos de coesão para ganhar competitividade.
Ao criar novos conhecimentos…
Não podem perder competitividade. E isto só se faz com mais conhecimento. Por isso é que em Portugal iniciámos uma estratégia para duplicar a nossa participação em programas europeus no próximo quadro, com Horizonte Europa. Portugal, entre o atual quadro 2014-2020, vai conseguir atrair cerca de mil milhões de euros. Sensivelmente 1,65% do orçamento europeu. Portugal contribui com 1,25% e conseguiu atrair 1,65%. É bom, mas não chega. E, portanto, queremos duplicar no próximo quadro 2021-2027. Passar para dois mil milhões. Isto, quanto a mim, só se consegue fazer se Portugal e Espanha estiverem juntos. Por isso é que eu digo: Ibéria com mais Europa e Europa com mais Ibéria. E, portanto, ir buscar mais competitividade, não apenas ir buscar fundos de coesão pelo retorno geográfico, mas ir buscar os fundos para a competitividade com mais conhecimento. E, para isso, temos que nos unir e trabalhar juntos com as redes europeias mais fortes.
Como sabem, Portugal e Espanha conseguiram atrair o financiamento competitivo, mas nas grandes parcerias não conseguimos penetrar. E, talvez, juntos consigam penetrar melhor naquilo que é a indústria automóvel e a indústria aeroespacial. A indústria espacial abre uma nova oportunidade brutal para Portugal e Espanha, porque são sistemas de baixo custo em que há vinte anos não era possível entrar e hoje a indústria aeroespacial europeia está tão monopolizada por tão poucas empresas, sobretudo francesas, que abre uma nova oportunidade a novas empresas. Espanha já tem uma capacidade considerável, com empresas muito interessantes, como a PLD Space.
Espero que a relação de Portugal e Espanha, nessa área também, permita abrir em Portugal um porto espacial e, em conjunto com a Espanha, criarmos o Air Center, sobretudo para termos informação por satélite. A ideia é construir o futuro e criar em Portugal e Espanha mais empregos. E melhores empregos para olharmos com confiança para as futuras gerações.

É conhecido por trabalhar muito, dormir pouco e comer menos. Qual é o segredo do sucesso do ministro Heitor?
É acreditar nas pessoas e, sobretudo, ter a ambição e criar uma relação de confiança com as futuras gerações.
Hoje, o conhecimento e a ciência estão longe de ser… De terem uma grande relevância política. Mas, esencialmente, pôr sempre os outros e as futuras gerações à frente. Se eu estou no governo, é para criar uma relação de confiança com as futuras gerações. Não estou aqui a trabalhar para mim. Estou a trabalhar para os outros e, sobretudo, para as futuras gerações, dando oportunidades a todos.
Eu costumo dizer, quando lancei, por exemplo, esse programa do Go Portugal – Global Science and Technology Partnerships Portugal, a minha ideia é sempre criar o que eu chamo redes de oportunidades. Portanto, darmos oportunidades a todos, qualquer que seja o seu estatuto socioeconómico. E quando investimos nas universidades americanas, foi para dar mais oportunidades aos jovens portugueses de conhecer a realidade do mundo. Como quando apostámos no INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory) ou no Air Center. É, principalmente, criar redes de oportunidades, porque um país com a dimensão de Portugal tem que juntar massa crítica suficiente e dependerá sempre das pessoas.
Se durante a crise ainda se pôs em dúvida a necessidade de ter um sistema de financiamento muito sério e sólido como uma questão crítica, hoje tenho a certeza que o sucesso de Portugal e da relação Portugal-Espanha passa muito por atrairmos pessoas. Porque atrair talento será o bem mais valioso que podemos dar. Se tivermos pessoas, temos tudo. Portanto, acreditar nas pessoas, acreditar nas futuras gerações e criar oportunidades que serão diferentes das nossas. Se, sobretudo, estamos a tentar criar empregos que não sabemos quais é que são. E, portanto, é abrir oportunidades para que as outras pessoas possam explorá-las. E abrir essas oportunidades é sempre muito difícil.
O que é que um especialista internacional em mecânica de fluidos e combustão faz como ministro? É necessário que professores e cientistas universitários sejam ministros para dar atenção à pesquisa ou ao ensino superior?
Penso que faz parte de um Governo ter um espelho diversificado de pessoas. O ideal é ter pessoas de todas as gamas e de todos os tipos. Porque, obviamente, sabemos que as comunidades científicas e académicas são muito fechadas e fecharam-se muito. E precisam de abrir. E, por isso, eu não estou no Governo a representar as comunidades académicas. Eu considero que estou no Governo para abrir novas oportunidades, também trazendo um conhecimento diferente. Mas acho que é importante nos governos haver pessoas de todas as origens e, sobretudo, que percebam os diferentes tipos de comunidades.
É verdade que as comunidades científicas e académicas se têm gradualmente fechado devido à especialização do seu trabalho. E, por isso, é uma dificuldade necessária para a ciência se abrir. Mas, infelizmente, tenho que dizer que ao nível do mundo, penso que é um fracasso. Porque não consegue vingar devido, por um lado, aos interesses económicos das grandes editoras, que são alimentados pelos interesses egoístas das comunidades académicas que querem é medir-se com artigos publicados. A ênfase terá que estar cada vez mais na qualidade e relevância do conteúdo e não na quantidade ou qualidade das publicações. Se nós conseguíssemos proibir que fossem usados fatores de impacto relativos ao número de publicações, as revistas também não publicavam tanto.
E entende que é possível?
É muito difícil.
Devemos valorizar, acima de tudo, a qualidade e a relevância do trabalho científico e a publicação dos seus resultados por meio de publicações, juntamente com o acesso aberto a essas publicações e a coprodução de conhecimento. Mas o problema da ciência aberta é um problema estrutural da comunidade científica a nível mundial, que simplificou a avaliação da qualidade da ciência com umas contagens de artigos que depois criou os monopólios de publicações que agora se reproduzem. Temos que conseguir inventar uma fórmula diferente, porque as comunidades científicas também se fecharam para poder publicar.
Os governos também contribuem para essa situação quando usam índices de impacto para medir a qualidade da pesquisa.
Nós aqui tentámos pôr isso na lei para proibir a utilização de fatores quantitativos. Sobretudo na avaliação de recursos humanos e na contratação de investigadores. Porque isto não abre a comunidade científica. Fecha-a e é um estímulo hoje muito mau, contrariando aquilo que nós queremos, que é o conhecimento como um bem público.
Mas esta questão da especialização do conhecimento, muito associada, principalmente, ao nosso espírito latino do Sul, é muito corporativo e tem dificultado a relação com diferentes setores de atividade. Uma das estratégias que eu usei, nos últimos anos em Portugal, foi fomentar a diversificação do nosso sistema e a densificação com novas instituições colaborativas, criando os laboratórios colaborativos como instituições onde obrigámos diferentes instituições científicas, públicas e privadas, a criarem novos laboratórios como instituições de interface.
À semelhança da Red de Institutos Madrileños de Estudios Avanzados, em Madrid. Ou algo que na Alemanha o Instituto Fraunhofer faz desde a Segunda Guerra Mundial. E na Holanda. E, mais recentemente, no Reino Unido com os Catapult. Criar mais instituições de interface, mas, no caso Português, resultaram da colaboração de diferentes atores. Alguns estão a funcionar muito bem, com o CoLAB DTC, em Guimarães, ou o CoLAB MORE, em Bragança. Porque em vez de serem orientados para a produção científica, são orientados para a criação de emprego. São avaliados por quantos empregos criam, quer diretamente, quer indiretamente. Portanto, devem usar o conhecimento disponível para criar emprego.
Lá podem ajudar as KICs (Knowledge and Innovation Communities) do EIT (European Institute of Innovation and Technology)
Exatamente. E nós trouxemos a Quick Digital para Portugal, exatamente nessas áreas. E penso que é muito importante. Não substitui nem deve substituir a investigação fundamental, mas nós sabemos que temos que diversificar o sistema, até para criar confiança na população em geral. Naturalmente, nada substitui um centro de investigação ou um investigador.
Eu penso que não é a ciência cidadã que vai mudar o contexto da ciência. A cultura científica é importante, mas para criar mais confiança na população, é cada vez mais crítica a relação ciência/emprego. A ideia de que a ciência cria emprego e de que não o destrói. Porque, a certa altura, nos últimos anos, com a emergência e a massificação da inteligência artificial, criou-se o mito de que as novas tecnologias reduziam o emprego. Esse é um mito, não é verdade. Vêm criar mais emprego. Portanto, a ciência tem que criar mais emprego. Quer na criação de emprego, quer na criação da qualidade de vida. O problema que temos de enfrentar com grande determinação é que os valores médios da criação de empregos com inteligência artificial e outras tecnologias estão associados a uma crescente diversidade entre áreas e regiões onde a criação de empregos é eficaz, em comparação com as áreas afetadas pela destruição do emprego.

Como explica aos cidadãos o benefício de um programa para o qual serão disponibilizados mais de 100.000 milhões de euros? Como poderia explicar para que serve a Horizonte Europa?
Com a convicção de que a ciência cria mais empregos e qualidade de vida. E é por isso que a relação da ciência com o emprego e a saúde é absolutamente essencial. Porque é a única forma que as pessoas, de uma forma geral, percebem o que é a ciência. A ciência cura. E por isso é que nós pusemos tanta ênfase no contexto europeu na missão do cancro. Todas as nossas famílias têm alguém, hoje, afetado por cancro. E se nós pudermos dizer aos cidadãos na Europa, a ciência cura o cancro. Ou, pelo menos, adia a morte do cancro. E se conseguirmos garantir que três em cada quatro doentes de cancro têm uma perspetiva longa de vida, que é a missão do cancro, as pessoas, de uma forma geral, acreditam mais na ciência. Por isso eu acho que é tão importante.
E nós acertamos as missões? A Europa está certa?
Acho que sim, mas acho que o volume global de financiamento é pequeno.
Há vinte anos, quando apareceram as JTI’s e as parcerias, a grande questão era se as parcerias iam ser abertas ou fechadas. E hoje sabemos que as parcerias tenderam a ser fechadas. Portanto, as missões têm que ser abertas. Senão, têm o efeito contrário.
Vejamos o caso do cancro. Hoje temos o European Cancer Core. Que tem uma rede de sete grandes hospitais, um dos quais em Barcelona. O meu principal objetivo é que o European Cancer Core esteja em todos os países europeus. Porque se esta ideia de três em cada quatro doentes de cancro terem uma perspetiva de vida só ocorrer nas zonas mais ricas e nas outras ser o contrário, então é o falhanço.
E, por isso, como é que nós conseguimos? A missão do cancro é garantir que, por toda a Europa, o número de mortes por cancro seja reduzido em 50%. Quer dizer, dois em cada quatro doentes morrem em menos de dois anos e a ideia é passar para três em cada quatro doentes não morrerem, pelo menos, num prazo de dois anos. Em toda a Europa. E na primeira definição da missão pelo European Cancer Core, eles diziam “Isto é só para as zonas ricas.” Isso não tem interesse, porque senão ainda cria um fosso maior na Europa. O que nós queremos é reduzir as mortes por cancro e, portanto, aumentar a qualidade de vida de todas as famílias europeias. Se isso se conseguir, é um grande sucesso.
É um desafio muito grande, porque a relação, mais uma vez, entre a ciência, a medicina e a saúde depende muito de uma articulação bastante complexa entre diferentes instituições. Barcelona é um caso de sucesso. Eu tenho ido muito ao centro de Barcelona. Mas sabemos, pelo menos em Portugal, que é das relações mais complexas entre o que se faz nos centros de investigação, nas escolas de medicina e nos hospitais. É uma relação muito crítica. Mas é crítica para a saúde e para o sistema de ciência. Eu acho que a relação entre a ciência e a criação de emprego e a ciência e a saúde são críticas.
No final, a competitividade está ligada à inovação. Faltam à Europa líderes em inovação? Porque sinto que estamos a começar a ser o centro de uma sanduíche tecnológica entre os gigantes americanos e asiáticos. Podemos escapar?
Eu considero, antes de mais, que a Europa é um grande lugar para se viver. Os Europeus criticam muito, mas a Europa ainda continua a ser o melhor lugar do mundo para se viver. Portanto, acredito seriamente na Europa, sobretudo se a Europa tiver mais Ibéria e a Ibéria tiver mais Europa. Mas, em todo o caso, não podemos esconder que há um contexto muito fragmentado de mercados na Europa. E a inovação requer mercados. E quando os mercados são fragmentados, é muito mais difícil inovar.
Quando dava aulas, definia a inovação aos meus estudantes como a forma como os empresários e as empresas ou os empreendedores criam valor valorizando a mudança. A mudança através do conhecimento ou mudança noutros tipos. Mas a ideia de criar valor passa muito por criar emprego. A criação de valor depende, cada vez mais, de aceder a mercados. E como a Europa está muito fragmentada, os mercados são muito pequenos. Enquanto nos Estados Unidos existe um mercado muito maior, que vive muito do mercado único. E, por isso, a questão crítica para mim, na Europa de inovação e de European Innovation Council, é abrir mais mercados e, principalmente, mercados externos e contrariar esta fragmentação dos mercados europeus.
A ciência e o conhecimento são cada vez mais globais e os investigadores trabalham, indiscutivelmente, sendo o tal ADN da ciência. Os mercados são globais. Mas, depois, os temas de inovação focaram-se muito e regionalizaram-se no local. A inovação tem que ter um impacto local, mas tem que ter uma dimensão global. E esta contradição entre o local e o global cria muitos complexos àquilo que são os centros de inovação que têm só uma ação local. Eu penso que não é um problema de lideranças só. É um problema, essencialmente, de perceber o que é local e, ao mesmo tempo, aceder a mercados globais.
O programa Catapult está a ser um programa bem-sucedido no Reino Unido. Poderia ser um exemplo a seguir na Europa?
O que nós aqui fizemos em Portugal foi criar os laboratórios colaborativos. Porque os Catapult têm muito dinheiro público. É, sobretudo, investimento público. Nós criámos os laboratórios colaborativos na mesma orientação: um terço, um terço, um terço. Um terço de dinheiro público, um terço competitivo e um terço na empresa. Mas a composição deles tinha instituições públicas e privadas e empresas. A ideia, sobretudo, é criar mais instituições de interface. É estas instituições serem verdadeiramente internacionais e operarem em mercados globais. E, por isso, se nós temos uma estrutura científica já relativamente internacionalizada, estes centros, como o Catapult em Inglaterra ou o Fraunhofer na Alemanha, são muito regionais e locais. Não tão europeizados.
Mas eles são modelos na Europa.
Estas instituições têm que ser, verdadeiramente, europeias.
Vamos voltar ao EIT como um instrumento europeu.
Exatamente. E também temos que abrir mais o EIT e as suas KICs a novos parceiros e aumentar a sua cobertura europeia. Mas, mais uma vez, são problemas muito complexos, porque envolvem pessoas, instituições e incentivos. E não há uma solução única, mas nós criámos os laboratórios colaborativos para poder aceder a mercados de exploração e, sobretudo, a esta ideia de que as instituições de interface são muito críticas, porque o sistema precisa de ser diversificado. Eu não acredito na relação universidade-empresa.
Tem que haver muitas instituições diferentes. Tem que haver uma malha muito diversificada de instituições entre a criação do conhecimento e a criação de emprego. E, portanto, isto é uma malha densificada de diferentes instituições com diferentes missões e não são piores nem melhores, são diferentes umas das outras.
Nós, por exemplo, no ensino superior, também estamos a valorizar muito o nosso sistema não universitário, o sistema politécnico. Que é para ter instituições com missões diferentes umas das outras. Nem todas são universidades. Eu sei que os espanhóis não têm um sistema com duas composições, universidades e politécnicos, mas eu penso que é importante para diversificar o tipo de missões.
De 2000 a 2004, foi um especialista da OCDE no projeto «Futuro». Imaginou esse futuro então?
Eu acho que o futuro passa sempre por ter a conceção de abordarmos uma grande incerteza. Eu nunca tive a necessidade de prever o futuro, mas, pelo contrário, de criar capacidades para se dialogar com incerteza. E o futuro será sempre incerto. Não sabemos qual é que vai ser o futuro. Temos é que ter capacidade para reagir e ser proativos face ao nível de incerteza. Porque a única coisa que eu sei é que a incerteza vai aumentar.
A incerteza, daqui a dois anos, vai ser maior do que agora, portanto, não vale a pena estarmos a pensar o que é que vai ser o futuro. Como é que criamos capacidades para viver num sistema de maior incerteza? A incerteza que é traduzida quer pelas alterações climáticas, quer pelo processo de transformação digital, quer, infelizmente, por uma pressão demográfica que temos, com mais velhos e menos jovens, sobretudo em Portugal e Espanha. E, por isso, temos um clima de grande incerteza. E como é que nos capacitamos para dialogar com essa incerteza? Mais do que prever o futuro, acho que é desenvolver capacidades para poder enfrentar a incerteza.
E como especialista em combustão: Brexit, tarifas, independência, duas ou três velocidades… O que mais pode acontecer connosco? A Europa está a queimar-nos?
Não é sim ou não, é como. É uma questão que nos deve fazer refletir a todos.
Cada vez temos uma juventude mais globalizada, que viaja mais, mas também temos, ao mesmo tempo, mais movimentos nacionalistas. Que, de facto, não se percebem. Mas que ocorrem. Os Brexit, os movimentos em Espanha, mas também na Bélgica, na Alemanha. E, portanto, os movimentos nacionalistas, que são campo de uma incerteza crescente e que são resultado do descontentamento das pessoas.
Mais uma vez, ou pela falta de emprego ou por questões de qualidade de vida, mas, de facto, nós temos um sistema, sobretudo de base capitalista, que tem acentuado as desigualdades sociais. Parece-me a mim que estas desigualdades acentuam estes movimentos. Porque se fôssemos menos desiguais, era normal que houvesse menos movimentos nacionalistas. À medida que concentramos a riqueza numa fração muito pequena da população e que excluímos a riqueza e os mecanismos de distribuição de riqueza de muitos, criam-se muitos polos de desigualdade. E, por isso, a questão crítica, quanto a mim, é tentarmos perceber que os movimentos nacionalistas são o resultado daquilo que nós próprios criámos, que é um sistema que favorece muito a concentração de riqueza. Nós precisamos de criar riqueza, mas de a distribuir melhor. Porque a concentração excessiva de riqueza criou muitas desigualdades e criou movimentos nacionalistas muito grandes. E, por isso, em Portugal, em Espanha e em toda a Europa, temos que garantir que as pessoas percebem a necessidade de melhor distribuir, quanto a mim, a riqueza, para dar melhores condições a todos.
Penso que esta é uma questão crítica, que não há questões tipicamente religiosas, pelo menos na Europa Ocidental. Há outras questões no Médio Oriente e, por exemplo, a relação com a Turquia ou com a Grécia, tem outras razões profundas associadas a ideologias religiosas que têm outra natureza. Mas que, naturalmente, temos um sistema que, gradualmente, cada vez favorece mais a concentração de riqueza. E esse é um drama das nossas sociedades.
O diagnóstico é difícil.

A Europa acaba de mudar e reestruturar o seu Colégio de Comissários. De um português que trabalhou muito e bem para a ciência e a inovação europeias, Carlos Moedas, a Mariya Gabriel, responsável pela pesquisa, inovação e mercado único digital. Estamos diante da melhor estrutura europeia para ciências e universidades?
Sim. Antes de mais, acho que o trabalho do Carlos Moedas foi muito importante para criar consensos na Europa sobre a ciência e a inovação. Ele é um grande político e criou uma rede de consensos muito importante e, portanto, penso que ele deixa uma boa memória na Europa.
O Tratado Europeu tem uma orientação clara na área da investigação e da inovação e, por isso, desde já, não se percebe porque é que o título da Comissária perdeu a palavra research. Acho que não devia ter perdido e espero que venha a ser recuperada na definição. Acho que é mau perder. É um símbolo, porque na Carta Europeia está lá tudo, mas não vejo razão para tirar a palavra educação, porque a educação não está no Tratado Europeu. Sabemos que a articulação da ciência passa muito (ou o desenvolvimento da ciência e da inovação passa muito) pela educação dos jovens e, por isso, o contexto do ensino superior é muito claro. Agora, mais uma vez, a questão da educação é uma questão nacional, dos países.
O único programa verdadeiramente europeu é o programa da mobilidade Erasmus. É um programa muito importante, mas muito pequeno. Sabemos que há um desafio grande de aumentar a mobilidade. Agora, a coordenação do sistema de ensino superior com investigação parece-me a mim que é muito, muito importante.
Embora não esteja incluído na Carta Europeia, um dos objetivos europeus é o programa Universidades Europeias. Portanto, existe uma vontade dos países de que o ensino superior, por exemplo através dessas universidades europeias, seja um objetivo cada vez mais compartilhado.
Sim. Eu penso que quando olhamos para os últimos trinta anos, sobretudo desde o final dos anos 80, tem havido um processo muito importante de usar os programas quadro. Já vamos a concluir o oitavo, como sabe, na criação de consórcios de investigação e de redes de projetos. E depois a criação do European Research Council deu mais capacidade para atrair jovens durante um período de tempo. Acho que foi um processo lento, mas muito positivo. Agora, quando olhamos para a construção da Europa, vemos que há desafios claros. E eu vejo, sobretudo, que o primeiro é o recrutamento conjunto.
Aquilo que fizemos no Erasmus para os jovens circularem, devíamos fazer no recrutamento dos docentes e dos investigadores. Esse é um desafio. Porque o European Research Council permite a mobilidade para um investigador ir para uma instituição durante um período até seis anos. Mas a ideia é ter uma carreira de investigação na Europa. Portanto, o recrutamento conjunto e as carreiras de investigação na Europa, onde um investigador pudesse estar em vários países e em várias instituições. E, portanto, eu vejo a evolução das chamadas redes das universidades europeias que, para serem bem-sucedidas, o respetivo caminho passa pelo recrutamento conjunto e as carreiras conjuntas. Poderemos ir, depois, a uma fase seguinte ainda mais complexa das instituições. As instituições serem mesmo instituições multinacionais. Mas vejo isso difícil, porque estas são universidades públicas e, portanto, vejo muito difícil. Mas não vejo difícil o recrutamento conjunto. E é a única forma, quanto a mim, de se poder melhorar a circulação de talento na Europa.
Eu ia perguntar se a mobilidade dos investigadores deveria ser uma questão prioritária na Europa, pois é essencial para o crescimento da pesquisa e, hoje, é muito difícil mudar de um país para outro.
Nós temos, por um lado, a Europa no seu global, que continua a perder investigadores para os Estados Unidos. Portanto, a Europa tem um défice. E há muitos talentos europeus que saem da Europa. Mas, por outro lado, temos dentro da Europa outros fluxos unidirecionais, sobretudo das periferias para o centro. E, por isso, temos que melhorar as nossas carreiras, para atrair outros, em vez de perder. E temos, internamente, de criar condições únicas para reduzir estes fluxos unidirecionais, porque as pessoas vão à procura de melhores condições. E sabemos que vão para países ricos do centro e do norte ou para algumas zonas ricas que têm melhores condições do que noutras. Portanto, termos uma carreira de investigação europeia e uma carreira de docente europeu onde as pessoas pudessem circular entre os diferentes países é particularmente difícil. Sei que as instituições ricas não querem. Porque isto beneficia os países mais pobres e, portanto, eu próprio lancei o debate para a presidência portuguesa desenvolver as carreiras europeias de investigador.
Este é um aspeto importante e urgente.
Mas vejo-o muito difícil. Vejo que a Europa não está, ainda, preparada para isso. Muitos dos países não vão querer facilitar que as pessoas circulem verdadeiramente com trabalhos. Portanto, ter carreiras e recrutamentos. Mas penso que o grande desafio das universidades europeias é isso. Não é apenas ter projetos conjuntos. É ter o recrutamento, uma pessoa ser professor em Madrid, em Helsínquia e em Londres.
Nesse contexto pan-europeu, como vê o futuro de grandes instituições e instalações internacionais dedicadas à ciência?
Como sabe, em Espanha, eu penso que o tempo das grandes instituições intergovernamentais, como o CERNE e depois a ESA (European Space Agency), não se vão conseguir fazer mais. Muito difícil manter as quotas. A ESA já é diferente do CERNE. O CERNE, como sabe, é fixado em função do PIB de cada país.. A ESA é outra discussão.
Eu percebi, quando criámos o Air Center, que era melhor ir para uma instituição não governamental, porque é muito complexo. E vê que o SKA (Space Kilometer Array) está há catorze anos para ser formalizado. Foram outras alturas que o possibilitaram, são instituições únicas que devemos valorizar, mas eu acho que temos que avançar cada vez mais para instituições em rede.
Que não são intergovernamentais, portanto, precisamos de muita inovação institucional e de ter instituições verdadeiramente em rede, que possibilitem o recrutamento conjunto e carreiras europeias com a circulação das pessoas na Europa para melhor distribuir, também, o conhecimento e a riqueza. Agora, é um passo que ainda vai demorar uns vinte anos.
A ciência ibérica é mais vulnerável do que a de outros países europeus?
Temos menos investimento. A vulnerabilidade está associada ao nível de investimento. Um país que invista menos do que 2% do PIB em investigação e desenvolvimento é mais vulnerável do que um país que invista mais. Portanto, a vulnerabilidade está associada ao nível de investimento, quer dizer, com os países que são mais pobres, porque é a capacidade de atrair investigadores. Portugal, durante os anos de crise, perdeu muitos investigadores, agora já recuperámos. A Espanha também, mas quanto mais for a capacidade de atrair e mais diversificado for o sistema, menos vulnerável é.
Temos ainda um percurso grande a percorrer, mas acho que há um campo de oportunidade cada vez maior para nos desenvolvermos e Espanha tem um mercado interno muito grande e, por isso, é que eu acho que Portugal, ligado com Espanha, tem muito interesse. Por razões históricas, nos últimos quatrocentos anos, as histórias dos dois países dividiram-se muito. Portugal orientou-se para a costa litoral e também a zona transfronteiriça é uma zona deserta nos dois países. E reforçar esta ligação também criando novos mercados transfronteiriços acho que é muito, muito importante. E nós temos excelentes exemplos, até perto da fronteira. Um é Bragança.
Bragança, que era uma zona deprimida no nordeste português, perto de Zamora. Está a ser totalmente mudada e não foi com portugueses. Foi, sobretudo, atraindo brasileiros e africanos. E hoje tem um Instituto Politécnico com muitos estudantes, tem um centro de investigação muito bom e está a atrair empresas para se localizarem ali e, portanto, mais uma vez, são mercados globais que possibilitaram ter uma política e uma estratégia de intervenção totalmente diferentes.
Outro caso é o de Fundão, perto de Castelo Branco e perto de Salamanca que, através de uma grande empresa francesa, Altran, criou todo um novo ecossistema na área das tecnologias de informação. Portanto, começa a haver alguns bons casos de sucesso que nos levam a acreditar que nestas zonas transfronteiriças é possível criar futuro. Conheço estes dois casos do lado português, mas com certeza que poderá haver, também, casos do lado espanhol e criar este mercado na região transfronteiriça é muito importante.
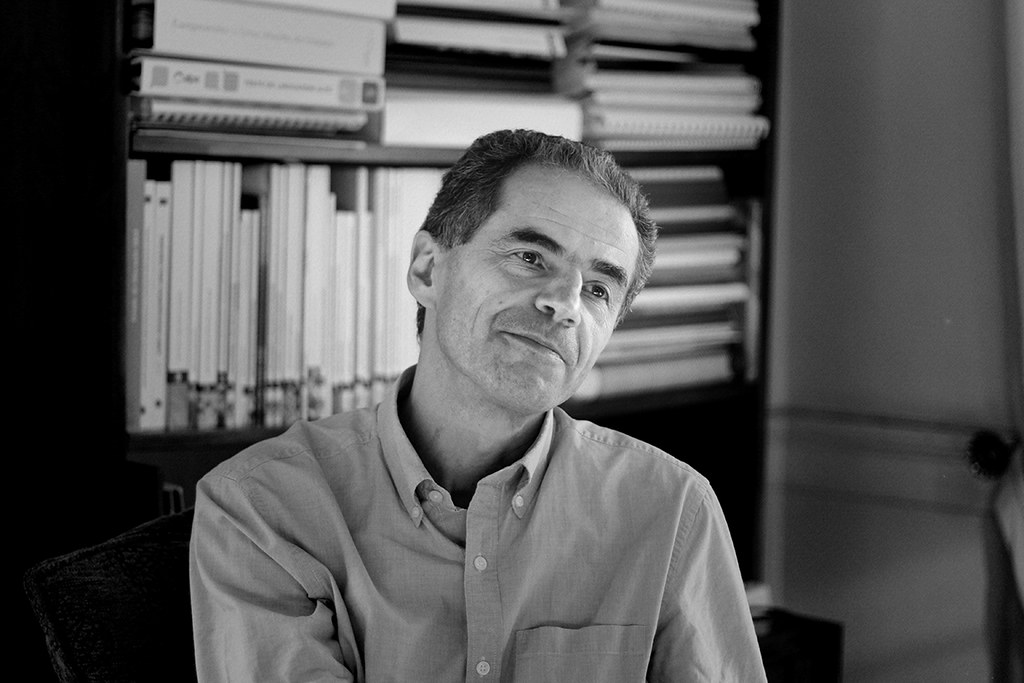
Vamos falar sobre universidade. Em 1998, escreveu o livro Novas Ideias para a Universidade. Existem novas ideias para a Universidade?
Abrir as universidades a verdadeiros espaços de intercâmbio e romper estigmas. Passados vinte anos, isto não melhorou nas universidades e, hoje, os desafios são muito mais urgentes. Porquê? Em situações como as de Portugal e Espanha, as universidades, não tenho dúvida nenhuma, atraíam os melhores talentos, há trinta ou há quarenta anos. Porque providenciavam ambientes através dos centros de investigação, sobretudo para aqueles que queriam explorar as novas fronteiras do conhecimento e faziam um doutoramento. Hoje já não é assim.
Hoje vejo em algumas áreas, por exemplo nas tecnologias de informação, com o advento e a massificação da inteligência artificial, ou mesmo na área do espaço, que há ambientes empresariais que são muito interessantes e que atraem muitos jovens com muito talento. E, por isso, o desafio que hoje as universidades têm é providenciar e facilitar ambientes inovadores para atrair os melhores. Caso contrário, daqui a uns anos, temos a fazer os doutoramentos os piores estudantes. Isto é uma situação limite.
É preciso criar ambientes que atraiam claramente os jovens com maior talento, que passam muito por uma ligação cada vez maior com as empresas, com diferentes tipos de instituições e não as instituições fecharem-se atrás de esquemas muito conservadores. E, por isso, as universidades correm desafios cada vez maiores, porque as empresas perceberam que tinham que se aproximar das universidades para atrair as melhores pessoas. E as universidades percebem que até têm que entender como é que as empresas funcionam para atrair financiamento. E as duas realidades são diferentes, mas têm que colaborar muito mais e, portanto, as universidades, também com este esquema de progressão de docentes ligado muito às publicações, estão-se a fechar e continuam a fechar-se muito. Por isso,, o principal desafio há vinte anos em Portugal era a abertura das universidades. E hoje isto continua a ser o principal desafio em todo o mundo. Abertura, abertura, abertura.
Continuamos a ter vozes críticas sobre a reforma das universidades europeias. Bolonha sim ou Bolonha não?
Eu acho que Bolonha, sobretudo o que fez, foi ter cursos mais curtos e mais diversificados e isso acho que foi um sucesso. Portugal teve uma adoção bastante diferente da Espanha. E penso que melhor do que a Espanha por ter mais os cursos com três anos. Portugal teve um problema, que facilitou as engenharias serem de cinco anos, mas que agora nós cortámos e agora volta tudo a ser três mais dois.
Mas temos muito a estimular e a promover a aprendizagem ao longo da vida, valorizando a especialização e diversificação contínua e sistemática da força de trabalho e das empresas. Hoje em Portugal, a comunidade estudantil tem uma idade média de 25 anos, em comparação com cerca de 41 anos na Dinamarca e em alguns países nórdicos. Isso se deve ao fato de que no sul da Europa, e particularmente em Portugal e Espanha, os jovens ingressam cedo e abandonam o ensino médio muito cedo, pois os empregadores não incentivam a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, devemos promover um esforço coletivo para aprender mais e ao longo da vida.
Três de licenciatura e dois de mestrado.
Exatamente. E cada vez as pós-graduações são mais e mais curtas. E cada vez vamos ter mais diplomas de pós-graduação e de formação inicial curtos e muito diversificados. E, por isso, a diversificação do programa de Bolonha foi um bom passo, mas vai avançar. No futuro eu, cada vez mais, vejo a necessidade de as universidades diversificarem muito o tipo de licenciaturas e terem licenciaturas muito novas, muito curtas, porque o mercado está a evoluir muito e procura coisas cada vez muito diferentes.
Em Espanha, estamos a assistir a uma explosão de Formação Profissional Dual. Vê isso como complementar à Universidade? Considera necessário?
Em Portugal também foi crítico. É absolutamente essencial diversificar os esquemas de formação. Nós fizemos isto, sobretudo, através do sistema politécnico com as formações curtas. Os cursos técnico-profissionais que depois dão acesso ao ensino superior e foi a forma de possibilitar que nós abríssemos o ensino superior. Este ano, pela primeira vez, temos mais do que 50% dos jovens de vinte anos no ensino superior, muito associado às formações curtas. Porque as famílias vulneráveis têm receio de ir para um curso muito longo e, portanto, as formações curtas criam confiança. E o que nós sabemos é que aqueles que entram, depois já não querem sair. Portanto, 60% daqueles que entraram nas formações curtas continuaram.
Portanto, ciclos curtos são melhores do que ciclos longos. São melhores as licenciaturas de três anos do que de quatro anos.
Exatamente. E é por isso que os cursos de três anos são melhores, porque reduzem o abandono e as pessoas vão-se movendo. Um curso longo aumenta o abandono e aumenta o custo. E é exatamente o contrário do que os reitores achavam que ia acontecer, porque fidelizavam as pessoas para pagar mais propinas.
Há vozes críticas que dizem que temos muitos licenciados e até muitos doutorados. Nós temos muitos?
Bem, eu não tenho dúvida nenhuma que não. Que temos poucos. E Portugal e Espanha, neste momento, têm é falta de doutores. Portugal e Espanha estão a formar, sensivelmente, o mesmo, três doutores por cada dez mil habitantes. Que é 30% abaixo do que a Holanda está a fazer e é metade do que a Finlândia ou a Noruega fazem. Portanto, nós temos que ter dois indicadores: o fluxo, que é quantos é que formamos por ano, e o stock, quantos é que existem. E Portugal e Espanha são muito semelhantes.
Temos um fluxo, portanto, abaixo da média europeia e um stock muito abaixo. Naturalmente que, dizendo isto, digo que também é preciso modernizar a formação ao nível do doutoramento e garantir que também as nossas universidades percebem que os doutores não são formados apenas para ir para cientistas. São formados para ir para o mercado de trabalho.
A formação do doutoramento não é apenas uma formação de cientistas ou de professores como era há vinte anos, mas é cada vez mais uma formação de especialistas. E isto muda completamente a questão. Em algumas áreas é possível, noutras não é possível. Mas é normal que as pessoas queiram fazer um doutoramento para se especializarem numa área, o que induz novos problemas. Porquê? Porque há muito conhecimento especializado que não está nas universidades, que está nas empresas. Veja-se agora na inteligência artificial. Se eu quiser ir onde está o maior conhecimento, não é na universidade. É nas empresas.
E, por isso, tal mostra que em algumas áreas, os doutoramentos têm que ser feitos com as empresas, porque muita da especialização do conhecimento não está sempre na mesma instituição. E por isso é que eu acho que tudo quanto se fala em transferência de conhecimento, tem que ser muito bidirecional. Porque na universidade há algum tipo de conhecimento, mas há outro tipo de conhecimento que está nas empresas, cada vez mais. Se queremos formar especialistas, tem que ser com as empresas. As escolas de economia e gestão fazem isto há trinta anos. Os MBA’s foram uma forma fácil de ir buscar especialistas às empresas. São eles que dão as aulas, porque quem sabe de gestão são os empresários, não são os professores. E, por isso, são programas mistos tipicamente, onde vêm muitos empresários dar umas aulas e em que os casos são sobre empresas. E, portanto, esse modelo pode ser aberto a outras áreas.
O problema é que ainda existem professores convictos de que a abertura empresarial não é necessária.
A questão típica do corporativismo e da abertura. É o grande desafio. Se as universidades querem ter melhores estudantes, têm que se abrir a outros ambientes e estimular novas formas de formação avançada, mesmo ao nível do doutoramento, em ambientes colaborativos, em estreita coordenação com empresas e administração pública.

Estou interessado em falar sobre quatro iniciativas que são muito importantes em relação a Espanha e Portugal: o INL, o AIR Center, o PRIMA e a nova Rede Ibérica de Computadores que está em desenvolvimento.
A ideia é sempre olhar para uma Ibéria mais competitiva e que juntos, Portugal e Espanha a trabalhar juntos, consigamos atrair mais e ser mais competitivos. E, por isso, juntando mais uma vez a coesão com a competitividade de uma forma que se possa convergir com mais conhecimento. O INL hoje é um verdadeiro sucesso que atrai investigadores de todo o mundo.
O objetivo do Air Center é o mesmo que na Rede Ibérica de Computação Avançada. Aquilo que estamos a fazer entre Barcelona e o Minho Advanced Computing Centre, o MACC, onde já instalámos um pequeno supercomputador, é tentar darmos capacidade de computação na Península Ibérica para podermos ter a capacidade de atrair mais empresas, mais investigadores.
Nós hoje sabemos que as empresas usam pouco a computação avançada, porque usam muito, mas está a sair caro, a cloud, a rede, a nuvem. E, portanto, também, para reduzir os custos das empresas, vão ter que recorrer mais a grandes supercomputadores. Por outro lado, o acesso massivo a dados e informação vai requerer mais poder de computação. É difícil explicar às pessoas, porque nós estamos a investir em algo de que hoje não precisamos. Mas daqui a dez anos, vamos com certeza precisar. Eu acho que o caso de Barcelona, do BSC, é um caso de grande sucesso, porque não são as oitentas pessoas nem o supercomputador dentro da capela, são as quinhentas pessoas à volta. Aquilo criou um ecossistema muito importante e temos uma rede articulada de computação avançada, sobretudo usando os seus potenciais utilizadores.
Por isso, a nossa estratégia de computação avançada tem o que eu chamo os cinco bites. Por um lado, olhar para a saúde (Health bit), para a computação na saúde, sobretudo para a prevenção precoce de cancros e, como hoje é feito, olhando para imagens de tumores. Toda a área associada ao clima (Earth bit), às mudanças climáticas e à biodiversidade, precisa de mais informação, sobretudo do clima. À mobilidade (Mobility bit). Cada vez mais, nas cidades, os temas de mobilidade e a mobilidade autónoma precisam de acesso a mais informação, precisam da computação avançada. A parte social (Social bit), porque as nossas redes sociais precisam de informação para ser guardada e depois, obviamente, ao desenvolvimento científico (Science bit).
A ciência cada vez precisa de mais dados para ser usada e, portanto, estamos a tentar ter utilizadores da supercomputação, numa esfera diversificada de aplicações, para que haja também uma capacidade de perceber por que é que precisamos de computação avançada. Muitas pessoas perguntam-me para que é que queremos um supercomputador. Queremos porque, daqui a uns anos, vai ser definição de soberania.
Qual o papel do ensino superior, da ciência e da tecnologia nas relações entre os países. Confia na diplomacia científica como instrumento de relacionamento entre países?
A diplomacia científica é cada vez mais importante, porque em áreas onde os governos e as empresas não conseguem falar, os cientistas podem ajudar. Penso que o caso mais bem-sucedido a nível do mundo é o CESAM, na Jordânia, que conseguiu pôr na mesma sala de trabalho israelitas com jordanos, muçulmanos com europeus, todos cientistas. Os governos não falam e, portanto, esse é um caso de grande sucesso.
PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterraean Area) pode ser particularmente importante, porque sabemos que hoje, se temos os problemas na Síria ou os refugiados a morrerem no mediterrâneo, estão associados, sobretudo, às pessoas a fugirem de zonas altamente afetadas por alterações climáticas e onde não há emprego. E com as secas, as pessoas, como não têm emprego, têm que sair. E, por isso, a questão do efeito das alterações climáticas na zona do mediterrâneo, quer no mediterrâneo sul, quer no mediterrâneo norte, é como conseguimos aumentar a produtividade da terra, usando menos energia e, sobretudo, com menos água, porque são zonas muito áridas. São problemas muito complexos que só com mais conhecimento é que são possíveis. E não são problemas meramente científicos, como se está a ver com os refugiados e com o problema que está na Síria.
Se a Europa conseguir ajudar o mediterrâneo sul e, portanto, o norte de África, a combater estes problemas, também tem uma maior possibilidade de resolver muitos dos problemas que hoje estão associados à Europa com os problemas migratórios. Por isso, o PRIMA tem uma relevância estratégia para a Europa muito grande, que é, com o conhecimento, abordar um problema crítico do norte de África, uma zona altamente afetada por mudanças climáticas. Sabemos que é um programa que tem muito pouco dinheiro para o desafio. O desafio é gigante. E sabemos que são problemas muito difíceis. Portanto, é preciso muita persistência e fazer ciência é persistir e ter muita paciência. Vai demorar, se calhar, mais tempo e a questão é se temos tempo para poder esperar… E, talvez, precisava de mais investimento, porque todo o investimento, quanto a mim, está a ser pouco face à dimensão e à complexidade do problema.
Enquanto ministro, administra a ciência e sabemos que o orçamento não é suficiente atualmente, mas os cientistas precisam sempre de mais e mais. Isso tem uma dimensão? Até que ponto um sistema científico precisa crescer?
Eu, quando vim para o governo, foi pela sensação que tinha que é preciso mais e, portanto, é preciso vir atrair mais investimento e mais pessoas, claramente que sim. Mas também mais abertura.
Não haverá ciência no futuro e a dimensão não aumentará se a ciência não for mais responsável por aumentar a qualidade de vida e a qualidade de emprego. Porque, para ser sustentável, as pessoas têm de perceber que a ciência é útil. Obviamente há conhecimento científico intrínseco e precisa de algum tempo. Havia um grande autor português, o José Almada Negreiros, que tem um livro onde dizia “A ciência requer um tempo que cada um de nós não dispõe.” Percebe? E, de facto, este é um dilema com que nós nos deparamos. Nós vimos que as equações de Einstein demoraram quarenta anos até aparecer o primeiro laser. E depois demorou mais trinta anos a aparecer a primeira miniatura do laser e hoje vamos a um oculista, a um dentista e somos tratados com um laser. Assim, demorou oitenta anos a conseguirmos usar as equações do Einstein para curarmos um dente ou um olho. E, portanto, é preciso tempo.
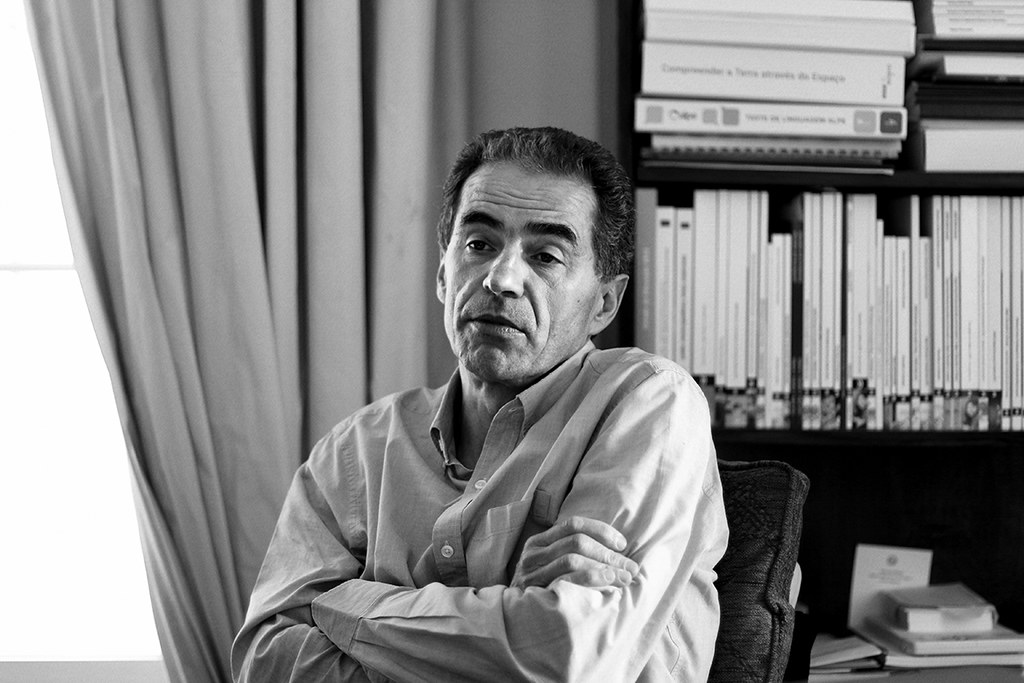
Não tem a impressão de que os cientistas estão sempre zangados? Para mim, sobre essa discussão permanente entre cientistas e governo, gosto de pensar no que Galdeano disse sobre a utopia: que é como o horizonte e que quanto mais avançamos, mais se afasta, mas serve para nos fazer andar.
Mas eu acho que é bom. Apesar de muitos investigadores acharem que é fácil aumentar o dinheiro, eu acho que é essa pressão é positiva.
Preocupa-me mais o contrário, o facto de haver tão poucos movimentos sociais a favor da ciência. Não vê manifestações de cientistas. É muito raro. E penso que há verdadeiramente falta do ativismo científico com impacto na sociedade. As poucas manifestações que há de cientistas não têm qualquer relevância social, económica ou política. Muito pouca. Os agricultores fecham estradas e vão para Bruxelas. Nunca vi os investigadores da Europa em Bruxelas a fechar a cidade e a pedirem mais investimentos. Nunca vi. E às vezes há algumas manifestações, mas são sempre pouco, muito pouco… Têm sempre muito pouco impacto.
Eu, a dizer isto, não estou a pedir que venham para aqui fazer manifestações. Mas acho que temos que chamar também a atenção para o facto de que os cientistas se fecham muito e de que são pouco ativistas no sentido positivo. De fazer ativismo científico com impacto para dar responsabilidade às pessoas. Porque não basta pedir dinheiro aos governos. Porque os governos dão aquilo que os cidadãos pedem. E o que nós vemos não só em Portugal, mas em Espanha, eu nunca vi uma campanha eleitoral onde a ciência tenha… Eu nunca vi a ciência nas campanhas eleitorais.
De facto, não é relevante a ciência. E isso é, também, culpa dos cientistas. Não conseguem que a ciência seja relevante no dia-a-dia. O isolamento da ciência era há vinte anos um problema e continua a ser. E isso precisa de mais ativismo científico. O que sabemos é que não basta os cientistas pedirem ao governo. Têm que, sobretudo, pedirem às pessoas para as pessoas peçam aos governos. O que tem impacto é as pessoas. Eu nunca vi em Barcelona uma manifestação ou em Madrid a pedir mais dinheiro para a ciência.
Considera que os cidadãos percebem os cientistas como «um dos nossos»?
Mas acho que também é preciso ter cuidado, que os cientistas não podem ser considerados pessoas diferentes dos outros. Um cientista típico pede dinheiro, diz “Eu sou uma pessoa à parte, preciso de mais dinheiro e uma carreira especial.” Isso é um perigo. Porque isso leva as pessoas a irem contra os cientistas. É importante a sociedade perceber que os cientistas são iguais aos outros. E todos os movimentos, por exemplo, as carreiras de investigadores são diferentes. Ou a ciência não paga o IVA. Tudo isso cria, depois, estigmas sociais contra a ciência.
Um dos princípios do programa Ciência Viva, do José Mariano Gago, que ele criou há trinta anos, era mostrar às pessoas que os cientistas são iguais aos outros. E que não são diferentes. Porque se considerarmos que os cientistas têm regras ou regalias diferentes, isso cria clivagens na sociedade. Portanto, eu sei que é complexo. Mas a maior parte dos cientistas não tem muita cultura científica. Portanto, a cultura científica, numa sociedade, também tem que ser responsabilidade dos cientistas. Há muito poucos cientistas que se preocupam com a cultura científica da população.
Em Espanha, e provavelmente o mesmo acontece em Portugal, a cultura sempre esteve associada às humanidades e letras, não à ciência. Sou da opinião que essa mudança está a ocorrer, mas de forma muito lenta.
Estou totalmente de acordo. A ciência é uma parte da cultura, não há dúvida nenhuma. Não há cultura científica sem cientistas e não há política científica sem ciência, nem há ciência sem política científica. Mas a questão crítica, e sou muito contra os meus próprios colegas e ambientes, é que hoje em muitas universidades não se vive um ambiente de cultura científica, porque a especialização focou e isolou tanto os cientistas que há muitos cientistas típicos que não têm cultura científica.
Precisamos de voltar ao Iluminismo, aquela época em que a ciência e o humanismo andavam de mãos dadas mais do que agora?
Eu acho que não andavam mais. Quer dizer, isso é o princípio do renascimento. Mas eram só dois ou três. A evolução do conhecimento desde os séculos XVII e XVIII obrigou à especialização e, portanto, o conhecimento especializou-se. Mas estamos hoje melhor do que estávamos há vinte, há cem ou há quinhentos anos. Estamos melhor. Mas quanto mais conhecimento temos, mais complexo é. Eu não sou nada apologista do passado. Acho que o passado é, sobretudo em Portugal e Espanha, estamos muito melhor hoje do que há quarenta anos ou de que há quatrocentos anos. E, por isso, naturalmente, que queremos dar uma cultura humanista, mas esses são outros desafios. Mas não é voltar ao passado, porque o passado era pior. Eram muito poucos aqueles que tinham acesso ao conhecimento.
Qual é a sua visão de Espanha, agora, desde Portugal?
Muito boa. Todos nós fomos educados a olhar para Espanha com muito carinho. Eu lembro-me que quando era uma criança, a melhor coisa que nos podiam dizer era para ir a Badajoz comprar caramelos e coca-cola ou ir a Madrid ou a Barcelona. Portanto, os portugueses têm um carinho e adoram ir a Espanha. As primeiras viagens que todos os portugueses fazem é levar os filhos a Espanha. Espanha é um grande paradigma. Portanto, a viagem de Espanha e dos espanhóis é uma imagem muito positiva em Portugal.
Claro que os acontecimentos políticos, sobretudo na Catalunha, têm lançado muitas questões de incerteza. Porquê? E, obviamente, quando nós percebemos a independência portuguesa há trezentos anos atrás, temos que perceber que a Catalunha, na altura, facilitou os movimentos de independência em Portugal. Mas, em todo o caso, Portugal vê a Espanha sempre com muito carinho e de uma forma muito positiva. Portanto, os portugueses querem sempre trabalhar com os espanhóis. Já penso que, às vezes, a Espanha vê Portugal como um nível mais abaixo, devido à dimensão. Mas eu penso que do lado português há um carinho e uma atenção muito grande para com Espanha e um interesse enorme em trabalhar e, portanto, há muitos portugueses a trabalhar em Espanha, sempre houve, sempre haverá.
Portugal, como foi um país sempre mais pobre, foi sempre muito aberto à colaboração. Eu via sempre a Espanha como um país mais rico. Representava qualidade de vida. Coisas que não se podiam fazer em Portugal, mesmo no tempo da ditadura do Franco, já se ia a Espanha beber coca-cola. Hoje os miúdos já não percebem, nós não podíamos beber coca-cola em Portugal. Mas, portanto, eu acho que há uma relação de grande amizade, carinho e de grande abertura para trabalhar sempre com Espanha.
E, finalmente, o importante: arroz de pato português ou arroz de marisco espanhol?
Nem um nem outro. Não sou muito de arroz. Mas prefiro os camarões sem arroz. [Risos]

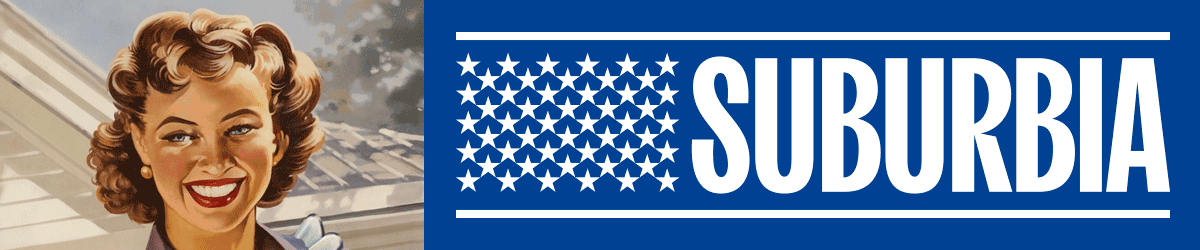









José Saramago, no seu livro La balsa de piedra, imagina um cenário em que a Península Ibérica rompe a ligação com a Europa e decide navegar sozinha pelo Atlântico em busca das suas raízes americanas e africanas numa espécie de “iberismo” navegável.
Título original do livro: A jangada de pedra.